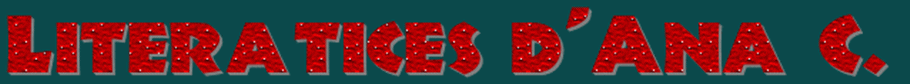Decidi de última hora passar o fim de ano em Arraial da Ajuda. Não é a primeira vez que visito este distrito de Porto Seguro, da primeira vez ficamos em uma pousada, foram só dois dias. A pousada não era muito legal, foi cara, o ventilador não prestava, tinha pernilongos demais, eu esqueci de levar o repelente, mas em compensação visitei a praia mais linda que já vi até hoje: Taípe. Areia rosada, água limpinha, deserta! Imagine o que é você ter uma praia linda e limpa só para você e sua família. Sem ambulantes vendendo quinquilharias, sem ninguém bebendo e falando besteira, sem grupo musical com músicas da moda feias. Dessa vez não voltamos lá.
Às vésperas de viajar, é óbvio, não obtive vagas em nenhum hotel ou pousada, pelo menos não um preço ao meu alcance. Não tão perto da virada do ano. Quem em sã consciência gastaria mais de 4 mil reais numa única viagem só em hospedagem? Não eu! Optamos por acampar. Meu primeiro camping, mas meu irmão estava junto, então ele nos deu todas as dicas. Não fui picada por nenhuma cobra, aliás, nem as vi. O camping tinha água corrente, banheiros com chuveiro quente, tomadas elétricas, um gramado legal, muitas árvores e sombras. Também tinha formigas, pernilongos, besouros, pulgas, pássaros, cães, crianças e adolescentes. Nada de cobras. Ponto positivo. Inesperadamente gostei de dormir em colchão inflável, só padeci por culpa de um mosquiteiro esburacado além da conta, mas isso não é nada. Eu já vivi 3 anos em uma cidade praiana e muriçocas não me assustam.
Dividir a barraca com meu marido e com minha filha foi... apertado. Mas dormi bem, olhando pra lua e para as copas das árvores. Dividir banheiro com mais duas dúzias de mulheres também não é a coisa mais horrível pela qual passei. A gente aprende a respeitar o espaço do outro, ser cuidadoso, tomar banho rápido, economizar água. Foi bom para minha filha essa experiência nova de se virar um pouco sem a superproteção da vó. Guardei essa anotação para futuras viagens: não é preciso encher a mala de coisas, é melhor levar bolsas mais leves, com coisas essenciais, saber onde cada coisa está ao invés de precisar revirar tudo para achar algo urgente. Aprendi também que muitos campistas andam com carrões importados, usam barracas que custam uns 2 mil reais.

Mas, Arraial é praia, então vamos falar delas: visitei várias. Fomos à Pitinga, Parracho, Lagoa Azul, Praia dos Coqueiros (em Trancoso). Algumas pessoas medem a qualidade das praias pela qualidade das barracas. Eu não. Na infância, íamos à praia sem depender de comércio nenhum. Levávamos lanches, água, toalha para forrar a areia e sentar, procurávamos a sombra das árvores. Hoje você chega na praia e é alertada de quanto deve consumir para ter direito a sentar embaixo de um sombreiro com mesas e cadeiras plásticas. Tudo é caro. De dois em dois minutos te empurram mercadorias. Não estou aqui falando contra os ambulantes, nem contra o comércio à beira da praia. Porém, ninguém pode negar que ir à praia hoje em dia implica um consumismo sem sentido, uma padronização de como se deve vestir, o que se deve comer, o que se deve visitar... E a praia em si fica pequena, apertada entre o consumir e o exibir-se.
A melhor praia a que visitamos dessa vez foi a Lagoa Azul. Note-se: lagoa mesmo não tinha, só um barzinho caindo aos pedaços, com uma atendente super simpática que nos vendeu as batatas fritas mais caras e murchas de Arraial, além de nos empurrar as latinhas de refrigerantes mais salgadas da minha vida: 7 reais. Apesar disso, o rústico do lugar, o fato de haver somente mais 5 pessoas num raio de 1km (um casal de rapazes, tímidos numa sombra e três surfistas aguardando nas redes ondas melhores) e o mar sem conchas me agradaram muito. Sem falar que eu e meu irmão nos embrenhamos nas falésias para buscar os últimos resquícios da lagoa azul que secou. Encontramos uma decepcionante
poça esbranquiçada entre as rochas, depois de passarmos quase de cócoras sob a vegetação densa. Fotografamos a decepção e retornamos. Mas foram as melhores fotos da viagem toda. Afinal, falésias são sempre impressionantes. Ainda mais naquele ponto em que havia delas rosa e branca misturadas. Foi idílico, especialmente pela caminhada de 3km para chegarmos até a praia. Mais 3km para voltar. Ha! São os custos da aventura.
O retorno pro camping foi épico. Épicamente desagradável. A Sprinter que pegamos, depois de fila na saída da praia da Pitinga, que nos custou os inacreditáveis 6 reais por cabeça, pegou um engarrafamento garrafal na subida de volta a Arraial. Para completar o motorista pegou 4 turistas argentinos que foram enlatados em pé ao nosso lado, conversadores, cavaquinho a tiracolo, os coitados cozinharam junto conosco debaixo do sol até que o bom senso limitado do motorista da Sprinter pediu ao cobrador que abrisse a porta lateral para ventilar os "ticos" (notem, ventilar o turista estrangeiro, os nacionais que cozinhassem!). Numa ladeira em que o carro morreu, 10 minutos se passaram e os rapazes se pronunciaram por seguir caminho a pé foram advertidos que até ali (menos da metade do destino final) eles teriam de pagar 4 reais! Não resisti a sugerir que eles se juntassem e dessem uma sova no baixote que lhes cobrava ameaçadoramente (eles, cada um, passando uns 4 palmos de altura do moleque). Parece-me que a nossa cultura de paz os fez voltar obedientes para o transporte e aguardar pacientemente até o ponto final. Enquanto isso, minha pressão caía abaixo dos 8. E viva aos trópicos!
Como ia me esquecer! A igrejinha de Nossa Senhora D'Ajuda! Não a visitei desta ida, mas passei por ela várias vezes. Tenho várias fotografias nos 150 degraus que subi umas três vezes em quatro dias. A vista do alto é belíssima: céu, mar, a mata, a areia, grande parte do Arraial, a sensação de ver o mesmo que Cabral...
De resto foi a volta pra casa, aliás, a estrada em si é cheia de paisagens bonitas. Paramos em Itapetinga duas vezes: uma na ida, pra tomar um café reforçado numa padaria cujo paradeiro descobrimos por meio de um senhor que nos guiou do posto de gasolina até lá; e na volta, para procurar uma farmácia aberta. Dores de cabeça de lado, voltar para casa é o melhor de todas as viagens.
Voltam as lembranças.