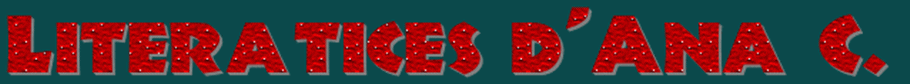A cidade era pequena ao
ponto de velório virar festa.
Quem morria ganhava seu
dia de celebridade, pobre ou rico. Para preservar a verdade, pobres ou ricos
iam parar no mesmo cemitério superlotado. Covas por cima de covas, carneiros
construídos com seis ou sete andares para fazer caber no mesmo metro quadrado a
família inteira. Sete palmos ali era luxo ao qual nem o prefeito se daria. A diferença entre as classes não se via, só o coveiro sabia que os ossos desenterrados e que se perdiam pelas barrancas do rio eram os dos
pobres. A cidade era pequena demais para mandar emparedar os restos, ademais, em qual parede?
Ninguém estranhava, o povo
fazer velórios tão bonitos, porém sem nunca inaugurar um cemitério novo, onde
não fosse preciso pisar nas covas para enxergar os parentes serem içados ao
último descanso. Devia ser porque quase ninguém visitava o campo santo, a não
ser em dia de muito lamento, quando não se repara em detalhes. Ou porque inauguração de cemitério não rende votos. Quem morre acaba, os que vivem esquecem.
Por vida, os familiares
dos defuntos pediam o caixão ao prefeito. E tinha que ser coisa lustrosa, de
luxo, com coroa de flor e aresta dourada. A municipalidade era tão zelosa de
seus finados que quem morria em outro estado era mandado buscar. Estou para
dizer que ali gastavam mais com os mortos do que com os vivos. Dizer que o prefeito tinha medo de perder os votos da família enlutada, isso eu não digo.
Havia todo um ritual
fúnebre que a modernidade não estragava. Registrada a morte por um dos médicos
do hospital ou pelo delegado, começavam os preparativos. Alguém da funerária, a
de conhecimento da família, vinha para anotar o nome dos familiares do ido,
escolher música, enfeitar a casa. Um carro de som rodava pelas ruas anunciando o nome do falecido, seus familiares e o endereço onde se podia ir dele despedir. Sempre aparecia alguém da família para
desenhar em cartolina umas frases de adeus, colar a foto do morto em
momento qualquer. As vizinhas e tias velhas vinham fazer chá, café, biscoito,
comprar bolacha e algum homem da casa lembrava-se de comprar pinga da boa,
batizada de preferência, além de cortar a lenha.
A lenha era para acender
na frente da casa. A dirigente da capela emprestava os bancos da igreja para a
família para quem fosse passar a madrugada, e isso muita gente fazia, sentavam-se ao redor da fogueira e dividiam o tempo da vigília entre falar do morto, tomar
chá e café e mastigar. Identificava-se uma família em luto pela quarteirão
fechado por cavaletes e a fogueira ardendo. E claro, sempre havia uma multidão
na porta, mesmo quem não conhecia ninguém da família ia, porque se tratava de
um acontecimento importante.
Eram umas conversas longas
ao pé do fogo, de esmiuçar a vida do falecido desde menino. A curiosidade da
cidade quase toda desfilava pela sala onde se punha o caixão, morreu de quê, do
que viverá a viúva, e os filhos, quantas concubinas teve, quantos bastardos. Um
a um contavam suas passagens com o morto, brigas, bebedeiras. Das mulheres,
indagava-se logo sobre os namoros, sobre os bordados, se era boa filha, irmã,
esposa. Nas famílias mais católicas as beatas tiravam duas ou três horas para
rezar o rosário, e entre as dezenas de ave-marias cantava-se. Era lindo e
triste.
O ápice da celebração chegava quando a
funerária vinha buscar o caixão para levá-lo ao cemitério. Era o momento em que
todos sairiam de seus lugares e se apertariam pelas ruas estreitas para
acompanhar o cortejo nos dois e até três quilômetros que podiam separar a casa
do cova. Era a hora da mulher ou da mãe do defunto chorar mais alto, com o
coro das irmãs, das tias, das primas. Se o morto ou a morta era jovem, juntavam-se
ao coro os colegas da escola, da bola, da academia.
Saía o cortejo, apinhado
de gente, por onde passava fazia abrir portas e janelas para vê-lo ir. As
casas comerciais baixavam as portas em sinal de respeito. O trânsito parava,
todos paravam. À medida que o caixão se aproximava do cemitério, o séquito
diminuía. Esse momento se reservava à família e aos amigos mais chegados, e
também muita gente não gosta de pisar em cova de cemitério.
O mesmo homem cavava todas
as covas da cidade há trinta anos. Sempre tomava meio litro de cachaça antes de
qualquer enterro. Pra não amolecer. O povo tinha o costume de lavar os pés e as
mãos na saída do cemitério e isso o deixava puto, porque o cemitério ficava
numa ladeira, a água da entrada escorria até o muro do fundo e ia fofando ainda
mais a terra escavada.
Depois dos enterros a
cidade ficava ainda mais parada, como se o pouco movimento do costume fosse cansativo. Era um lugar no qual não se
morria sem ninguém para lhe por uma vela na mão.